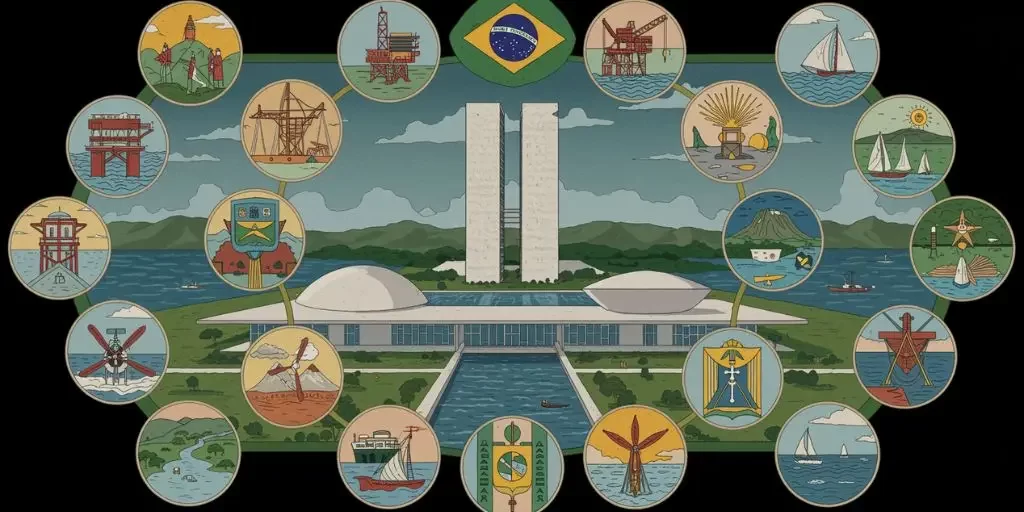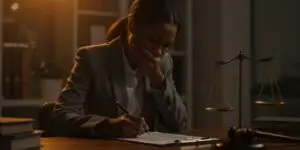O que você verá neste post
Introdução
As Anotações Acadêmicas de 22/05/2025 trazem uma análise detalhada dos princípios constitucionais relacionados às vedações federativas, aos bens da União e à estrutura dos Estados no Federalismo Brasileiro.
Este conteúdo é fundamental para compreender como a Constituição Federal de 1988 organiza a divisão de competências e a proteção dos direitos entre os entes federativos.
Estudar esses temas é essencial, pois eles estruturam a convivência harmônica entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, preservando tanto a autonomia quanto a unidade do Estado brasileiro.
Além disso, compreender as vedações impostas pela Constituição, a titularidade dos bens públicos e a distribuição dos poderes no âmbito estadual permite ao estudante de Direito — e também aos operadores jurídicos — uma atuação mais consciente e embasada, tanto na defesa dos interesses públicos quanto na proteção dos direitos fundamentais.
Portanto, o objetivo das Anotações Acadêmicas de 22/05/2025 é oferecer uma visão clara e organizada dos principais tópicos abordados na disciplina de Organização do Estado e dos Poderes, contribuindo diretamente para a compreensão dos pilares que sustentam o Federalismo no Brasil.
Vedações de Natureza Federativa
O artigo 19 da Constituição da República estabelece limites claros que visam proteger a integridade do pacto federativo e garantir princípios fundamentais como o Estado laico, a segurança jurídica e a igualdade entre os entes federados e os cidadãos.
Separação entre Estado e Igreja – O Princípio do Estado Laico
A vedação à união entre Estado e instituições religiosas está expressa no artigo 19, inciso I, da Constituição, que impede a criação de vínculos de dependência ou aliança entre ambos.
Esse dispositivo é o que sustenta juridicamente o princípio do Estado laico, assegurando que nenhuma religião receberá tratamento privilegiado por parte do Poder Público.
A professora, durante a aula, destacou um exemplo prático sobre o repasse de mantimentos e insumos, como sabonetes e alimentos, do governo do Estado de São Paulo para uma fazenda ligada a uma entidade religiosa, que desenvolvia um trabalho social voltado à recuperação de pessoas em situação de dependência química.
Esse exemplo gerou debate sobre se essa colaboração fere ou não a laicidade estatal, sendo esclarecido que a Constituição admite a colaboração de interesse público, desde que não haja subsídio ou subordinação, permitindo, por exemplo, que entidades religiosas prestem serviços sociais sem que isso implique quebra da neutralidade do Estado.
Recusa de Fé a Documentos Públicos – Proteção à Segurança Jurídica
O artigo 19, inciso II, veda aos entes federativos recusar fé a documentos públicos provenientes de outro ente da federação. Isso significa que uma certidão emitida por um cartório da Bahia, por exemplo, deve ter a mesma validade jurídica no Paraná, no Acre ou no Rio Grande do Sul.
Na aula, citou-se como exemplo a compra de um imóvel: se a matrícula do imóvel está registrada em um cartório, presume-se que aquele documento é verdadeiro e eficaz, protegendo a segurança das relações jurídicas e evitando que cada estado crie barreiras documentais próprias, o que desestruturaria o pacto federativo.
Proibição de Distinção entre Brasileiros – Igualdade Federativa
Por fim, o artigo 19, inciso III, impede que a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso protege a isonomia federativa, evitando práticas discriminatórias baseadas em origem geográfica ou local de residência.
Foi trazido na aula um exemplo relevante: quando o Estado do Paraná buscou dar preferência na compra de veículos fabricados no próprio estado, o que gerou questionamento jurídico por parte do Estado da Bahia, que entendeu que essa prática configurava uma forma de discriminação econômica e comercial entre entes federativos, ferindo diretamente o princípio da igualdade federativa.
Diante dessa impugnação, foi necessária a abertura de um procedimento licitatório amplo, no qual todos os concorrentes pudessem participar em igualdade de condições.
No final, quem venceu a licitação foi a empresa Ford, que sequer possuía fábrica no Paraná, evidenciando na prática a eficácia da vedação constitucional contra distinções entre brasileiros e a importância desse dispositivo na preservação da unidade nacional e na promoção de um mercado interno livre e igualitário.
Bens da União (Art. 20 da Constituição Federal)
O artigo 20 da Constituição Federal enumera quais são os bens que pertencem à União. A titularidade desses bens não é apenas uma formalidade jurídica, mas um instrumento de proteção da soberania nacional, da defesa dos interesses coletivos e do desenvolvimento econômico e ambiental do país.
Definição dos Bens da União
De acordo com a Constituição, são bens da União, entre outros:
Os terrenos de marinha e seus acrescidos;
As ilhas oceânicas e costeiras, excluídas aquelas que contenham sede de município;
As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras;
As vias federais de comunicação;
As riquezas minerais, inclusive as do subsolo;
As jazidas, minas e outros recursos minerais;
As águas que banhem mais de um estado ou que sirvam de limite com outros países;
A plataforma continental e a zona econômica exclusiva;
Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
As terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.
Esse rol demonstra que os bens da União estão diretamente relacionados à preservação da soberania nacional, à defesa, à comunicação interestadual e à gestão de recursos naturais de grande valor estratégico e econômico.
Soberania Nacional e Defesa
Durante a aula, destacou-se que muitos desses bens têm a função de proteger a soberania do país. Por exemplo, as terras devolutas situadas nas fronteiras, os terrenos de marinha e as águas limítrofes com outros países são essenciais para garantir a integridade territorial e a segurança nacional.
Esses bens não são apenas patrimônios físicos, mas elementos estruturais para a defesa do Brasil contra ameaças externas, além de serem fundamentais para manter a unidade do território nacional.
Gestão e Democracia Interna
Os bens da União também cumprem uma função social e econômica importante. A gestão desses recursos deve atender ao interesse coletivo, promovendo políticas públicas de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e proteção ambiental.
Na aula, foi abordado o exemplo da exploração do pré-sal, cuja riqueza representa uma oportunidade para o desenvolvimento econômico, mas também um desafio, pois exige uma gestão democrática, eficiente e comprometida com o bem comum.
Riqueza Imensurável e Desenvolvimento
O patrimônio da União inclui bens de valor incalculável, como os recursos naturais do subsolo (minérios, petróleo, gás natural) e os recursos da plataforma continental. Estes bens são essenciais para o desenvolvimento econômico do país, sendo fontes de receita e de investimentos estratégicos.
A professora explicou, de forma muito didática, que essa riqueza natural, quando bem administrada, pode transformar a realidade econômica do país, mas também é fonte de conflitos e especulações, como foi o caso das discussões em torno do pré-sal. Isso demonstra como os bens da União não são apenas elementos constitucionais, mas verdadeiros ativos de desenvolvimento e de exercício da soberania.
Organização dos Estados no Federalismo Brasileiro
Os Estados-membros da federação brasileira possuem autonomia administrativa, legislativa, financeira e política, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Essa autonomia é garantida pelos artigos 25 a 28 da Constituição, que definem a estrutura dos Estados, suas competências, seus bens e a organização dos poderes locais.
Art. 25 – Competências dos Estados
O artigo 25 estabelece que os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. Isso significa que cada Estado possui sua própria Constituição Estadual, elaborada por sua Assembleia Legislativa, desde que não contrarie os princípios fundamentais da Constituição da República.
Além disso, cabe aos Estados as chamadas competências remanescentes, ou seja, todas aquelas que não são expressamente atribuídas pela Constituição à União ou aos Municípios. Isso reforça a autonomia dos Estados dentro do pacto federativo.
Na aula, a professora reforçou que essa competência permite aos Estados legislarem sobre temas de interesse regional, desde que não entrem em conflito com normas gerais estabelecidas pela União.
Art. 26 – Bens dos Estados
O artigo 26 define quais são os bens dos Estados, que incluem:
As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas as de domínio da União.
As ilhas fluviais e lacustres que não pertençam à União.
As terras devolutas que se localizem em seus territórios, não sendo necessárias à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, conforme definido em lei.
A professora explicou que, diferentemente dos bens da União, os bens dos Estados possuem um caráter mais regional, servindo ao desenvolvimento local e à gestão dos recursos naturais restritos ao território estadual.
Art. 27 – Poder Legislativo Estadual
O artigo 27 trata da organização do Poder Legislativo Estadual, que é exercido pela Assembleia Legislativa. Cada Estado possui sua Assembleia, composta por deputados estaduais eleitos pelo sistema proporcional.
As Constituições Estaduais definem o funcionamento da Assembleia Legislativa, os processos legislativos locais, a quantidade de deputados (vinculada proporcionalmente à representação na Câmara dos Deputados) e as competências específicas, que incluem legislar sobre assuntos de interesse estadual e fiscalizar os atos do Poder Executivo local.
Na aula, destacou-se que o processo legislativo estadual segue princípios semelhantes ao federal, mas é adaptado à realidade e às necessidades do Estado.
Art. 28 – Poder Executivo Estadual
O Poder Executivo nos Estados é exercido pelo Governador, eleito por voto direto e secreto, em sistema majoritário, para um mandato de quatro anos, com possibilidade de reeleição.
O artigo 28 também estabelece que a eleição do Governador e do Vice-Governador deve seguir as mesmas regras aplicáveis à eleição do Presidente da República, no que couber.
Durante a aula, a professora frisou que o Governador exerce funções de chefe de governo e de chefe da administração estadual, devendo cumprir a Constituição Estadual e atuar dentro das competências definidas pela Constituição Federal.
Divisão Regional e Colaboração entre Entes
A Constituição Federal, especialmente no artigo 25, parágrafo 3º, estabelece mecanismos de colaboração entre os entes federativos por meio da organização em Regiões Metropolitanas, Microrregiões e Aglomerações Urbanas, visando à gestão compartilhada de funções públicas de interesse comum.
Essa divisão não altera a autonomia dos municípios envolvidos, mas promove a integração administrativa, econômica e social, permitindo soluções conjuntas para desafios que ultrapassam os limites territoriais de um único município.
Região Metropolitana
A Região Metropolitana é uma entidade criada por lei estadual, que engloba o município sede — normalmente uma capital — e os municípios que estão em sua área de influência socioeconômica. O objetivo é organizar, planejar e executar funções públicas de interesse comum, como:
Transporte público coletivo intermunicipal.
Saneamento básico integrado.
Gestão compartilhada de resíduos sólidos.
Políticas de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial.
Na aula, foi destacado o exemplo de Salvador, que constitui uma região metropolitana, pois diversos municípios do entorno dependem economicamente da capital, seja para trabalho, serviços ou transporte.
Microrregião
A Microrregião é uma subdivisão definida também pela lei estadual, porém, diferentemente da região metropolitana, ela não tem como base a integração urbana, e sim características geográficas, econômicas e sociais comuns.
Na aula, a professora explicou que a microrregião agrupa municípios que compartilham aspectos como:
Tipo de relevo.
Clima.
Vegetação.
Atividades econômicas predominantes (como agricultura, turismo ou indústria).
Por exemplo, a região de Ilhéus, voltada para o turismo e a produção de cacau, é uma microrregião que se organiza segundo esses critérios naturais e produtivos.
Aglomeração Urbana
De acordo com a explicação da professora, a Aglomeração Urbana se caracteriza quando, ao viajar entre uma cidade e outra, percebe-se que, mesmo fora do perímetro urbano dos municípios, existem casas isoladas, famílias morando, pequenos agrupamentos humanos distribuídos ao longo das estradas ou em pontos intermediários, sem que necessariamente isso configure um distrito ou núcleo urbano formalizado.
É aquela situação em que não há um centro urbano definido, mas há uma ocupação esparsa do território, com algumas moradias, estabelecimentos ou atividades econômicas localizadas entre uma cidade e outra.
Essa configuração não equivale a uma região metropolitana nem a uma microrregião, mas representa uma ocupação territorial que, embora desconectada dos núcleos urbanos principais, exige algum nível de planejamento e gestão conjunta dos entes federativos, especialmente no que se refere à prestação de serviços públicos, transporte, segurança e infraestrutura básica para essas populações dispersas.
Bens dos Estados
Os bens dos Estados estão previstos no artigo 26 da Constituição Federal e representam aqueles patrimônios públicos que não pertencem à União nem aos Municípios. Eles são fundamentais para assegurar a autonomia administrativa, financeira e econômica dos Estados-membros no pacto federativo brasileiro.
Conceito e Classificação
De acordo com o artigo 26 da Constituição Federal, pertencem aos Estados:
As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas as de domínio da União.
As ilhas fluviais e lacustres que não pertençam à União.
As terras devolutas situadas dentro do território estadual, desde que não sejam indispensáveis à defesa nacional, às vias federais de comunicação, às construções militares ou à preservação ambiental definidas em lei.
Diferença entre Bens da União e dos Estados
A professora destacou que os bens da União estão relacionados à soberania nacional e interesses de abrangência interestadual ou internacional, como os mares, ilhas oceânicas, jazidas minerais e áreas de fronteira.
Já os bens dos Estados são aqueles de relevância regional, isto é, bens cujo uso, exploração ou preservação impacta principalmente o próprio território estadual, sem afetar diretamente os interesses nacionais.
Por exemplo:
Um rio que nasce e deságua dentro do mesmo Estado é bem estadual.
Uma ilha situada em um lago que não pertence à União também é bem estadual.
Gestão dos Bens dos Estados
Os Estados possuem competência plena para:
Administrar seus bens.
Estabelecer regras de uso.
Promover políticas públicas de preservação ou exploração sustentável.
Realizar concessões, permissões ou autorizações, conforme interesse estadual.
Na aula, a professora destacou como exemplo de bem de domínio dos Estados o gás canalizado, cuja exploração pode ser feita diretamente pelo Estado ou mediante concessão, conforme estabelece o artigo 25, §2º da Constituição.
Ela também ressaltou que é vedada a edição de medida provisória para a regulamentação desse serviço, reforçando a autonomia dos Estados na gestão desse bem específico.
Esse exemplo deixa claro que os Estados possuem competência plena para administrar os bens que lhes pertencem, seja por meio da exploração direta ou por concessões, sempre de acordo com os interesses locais e respeitando os limites constitucionais.
Importância para a Autonomia Estadual
A posse desses bens garante aos Estados:
Fonte de receita própria, proveniente da exploração econômica, taxas, tarifas ou aluguéis.
Capacidade de formular políticas públicas adaptadas à realidade local.
Instrumentos para o desenvolvimento sustentável, econômico e social dentro do território estadual.
Portanto, os bens dos Estados não são apenas um elemento patrimonial, mas também um instrumento de efetivação da autonomia federativa, assegurando que os Estados possam se organizar e prosperar de acordo com suas características e demandas específicas.
Poder Legislativo Estadual
O Poder Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa, órgão representativo dos cidadãos no âmbito dos Estados. Seus membros, os deputados estaduais, são eleitos por meio do sistema proporcional, com base nos votos válidos obtidos tanto pelos partidos quanto pelos candidatos.
Estrutura do Poder Legislativo Estadual
A Assembleia Legislativa tem como principais funções:
Legislar sobre matérias de competência estadual, respeitando os limites da Constituição Federal.
Fiscalizar os atos do Poder Executivo estadual.
Julgar as contas do governador, com auxílio dos tribunais de contas estaduais.
Exercer outras atribuições previstas na Constituição do Estado.
Cada Estado tem sua própria Assembleia Legislativa, cuja quantidade de deputados é proporcional à representação que o Estado possui na Câmara dos Deputados, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal.
Quóruns de Votação
Durante a aula, a professora explicou de maneira clara os principais quóruns utilizados no processo legislativo estadual:
Maioria Simples
Também chamada de maioria relativa.
Calculada sobre o número de parlamentares presentes na sessão.
Exemplo: Se há 20 deputados presentes, a maioria simples é 11 votos (metade +1 dos presentes).
Usada para decisões ordinárias, como aprovação de projetos simples.
Maioria Absoluta
Calculada sobre o total de membros da Assembleia Legislativa, e não apenas sobre os presentes.
Exemplo: Se a Assembleia possui 63 deputados, a maioria absoluta será 32 (metade +1 do total).
É exigida em matérias mais relevantes, como aprovação de leis orgânicas ou emendas constitucionais estaduais.
Essa distinção é fundamental para a validade dos atos legislativos e para assegurar que decisões mais sensíveis sejam tomadas com maior representatividade.
Sistemas Eleitorais Aplicáveis
Na aula, foi detalhado que, no contexto do Brasil, são utilizados dois sistemas eleitorais principais, ambos aplicados em diferentes esferas do Poder Legislativo e Executivo, tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, dependendo do cargo em disputa.
Sistema Majoritário
O Sistema Majoritário é utilizado para eleições em que se busca eleger um único representante para cada cargo. Nesse modelo, vence o candidato que obtém:
Maioria absoluta dos votos válidos (50% + 1), quando se trata de cargos do Poder Executivo em locais com mais de 200 mil eleitores.
Ou simplesmente o mais votado, no caso de eleições para cargos em que não há exigência de maioria absoluta.
Aplica-se a:
Presidente da República.
Governadores de Estado.
Prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores (com possibilidade de segundo turno).
Senadores da República (cargo majoritário, sem segundo turno, vence quem obtiver mais votos).
Funcionamento:
Se nenhum candidato ao Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito de município com mais de 200 mil eleitores) obtiver maioria absoluta no primeiro turno, realiza-se um segundo turno entre os dois mais votados.
Para Senadores, Prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores, basta obter maioria simples (quem tiver mais votos vence, não há segundo turno).
Sistema Proporcional
O Sistema Proporcional busca garantir uma representação parlamentar mais fiel à votação dos partidos e coligações, levando em consideração tanto os votos no candidato quanto no partido (voto de legenda).
Aplica-se a:
Deputados Federais.
Deputados Estaduais.
Deputados Distritais.
Vereadores.
Funcionamento:
O eleitor vota em um candidato específico ou na legenda do partido.
O total de votos válidos (incluindo os votos de legenda e nominais) é dividido pelo número de vagas em disputa, resultando no quociente eleitoral.
Cada partido ou federação conquista um número de cadeiras proporcional ao quociente eleitoral e à quantidade de votos recebidos.
Depois, as cadeiras do partido são ocupadas pelos candidatos mais votados dentro daquela legenda.
Efeito Puxador: A professora explicou, de forma bem didática, que este sistema permite que um candidato muito bem votado possa puxar outros da sua chapa, mesmo que esses outros tenham votação individual muito baixa. Esse fenômeno é conhecido como efeito puxador de votos, comum nas eleições proporcionais, e gera debates sobre representatividade.
Síntese dos Sistemas
| Sistema | Cargos Abrangidos | Critério de Vitória |
|---|---|---|
| Majoritário | Presidente, Governador, Prefeito (mais de 200 mil), Senador | Maioria absoluta ou simples |
| Proporcional | Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereadores | Distribuição proporcional às vagas |
Conclusão
As Anotações Acadêmicas de 22/05/2025 permitiram compreender aspectos fundamentais do Federalismo brasileiro, especialmente no que se refere às vedações federativas, aos bens da União, aos bens dos Estados e à organização dos poderes estaduais.
O estudo do artigo 19 da Constituição demonstrou como o Brasil preserva sua característica de Estado laico, assegura a segurança jurídica e impede práticas discriminatórias entre cidadãos e entes federativos, reforçando a unidade nacional.
A análise dos bens da União revelou seu papel essencial na proteção da soberania, na defesa nacional e na promoção do desenvolvimento econômico e ambiental. Por outro lado, os bens dos Estados representam a materialização da autonomia estadual, possibilitando a implementação de políticas públicas adaptadas às realidades locais.
A organização dos Estados, baseada nos artigos 25 a 28 da Constituição, reflete a distribuição de competências e a estruturação dos poderes Legislativo e Executivo, que garantem o equilíbrio federativo. Entender os sistemas eleitorais — majoritário e proporcional — também é essencial para compreender como são formados os governos estaduais e as Assembleias Legislativas.
Por fim, o estudo das regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas evidencia a importância da colaboração entre os entes federativos na busca por soluções conjuntas, especialmente para desafios de mobilidade, urbanização e serviços públicos.
Esse conhecimento é indispensável para quem deseja entender, atuar e defender os princípios que sustentam o Estado brasileiro.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 26. ed. São Paulo: Saraiva Jur., 2023.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 46. ed. São Paulo: Malheiros, 2023.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2022.