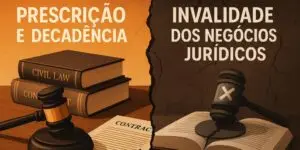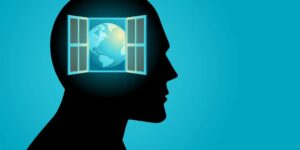O que você verá neste post
Introdução
Dando continuidade aos conteúdos abordados na aula anterior, conforme Anotações Acadêmicas de 03/04/2025, as Anotações Acadêmicas de 10/04/2025 registram o aprofundamento do estudo sobre a organização do Estado Federal e os mecanismos constitucionais de repartição de competências no ordenamento jurídico brasileiro.
O tema é central no Direito Constitucional, pois trata da forma como o poder estatal é distribuído entre os entes federativos e como essa repartição assegura equilíbrio, autonomia e cooperação na estrutura do Estado.
A compreensão do federalismo é indispensável para interpretar as relações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tanto no plano administrativo quanto legislativo.
Além da análise do modelo brasileiro, foi realizada uma comparação pontual com o federalismo norte-americano, com destaque para suas origens e a evolução do relacionamento entre os níveis de governo.
Este artigo tem por objetivo sistematizar os conceitos discutidos em sala, oferecendo uma visão clara, didática e coerente sobre os fundamentos do Estado Federal no Brasil, com foco especial nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal de 1988.
Tipos de Estado Federal
A formação do Estado Federal pode ocorrer por diferentes caminhos históricos e políticos, o que influencia diretamente a configuração da federação e o grau de autonomia dos entes que a compõem. A doutrina constitucional identifica duas principais origens para a criação de uma federação: o modelo centrípeto e o modelo centrífugo.
No modelo centrípeto (ou por agregação), a federação surge a partir da união de estados anteriormente soberanos ou politicamente organizados, que decidem voluntariamente se reunir em torno de um poder central comum.
Trata-se do caso clássico dos Estados Unidos da América, cujo processo federativo foi fundado sobre o pacto entre estados independentes que escolheram constituir uma união permanente, ainda que mantendo parte de sua autonomia.
Já no modelo centrífugo (ou por desagregação), o processo é inverso: parte-se de um Estado unitário que se descentraliza progressivamente, concedendo autonomia a suas divisões territoriais, até formar uma federação.
Esse é o modelo adotado no Brasil, onde a federação foi construída a partir da fragmentação do poder central, distribuindo competências e reconhecendo a autonomia dos Estados-membros, do Distrito Federal e, posteriormente, dos Municípios.
A distinção entre essas duas formas de origem federativa não é meramente teórica. Ela reflete diferentes compreensões sobre a distribuição de poder e influencia a dinâmica política e institucional dos países federados.
Assim, enquanto no modelo centrípeto prevalece a ideia de pacto entre iguais, no centrífugo a descentralização é promovida por decisão do poder constituinte originário, como ocorreu na Constituição brasileira de 1891, que instaurou oficialmente o federalismo no país.
Relação entre Poder Central e Poder Local
A dinâmica entre os entes federativos não se dá de forma única ou uniforme em todas as federações. No estudo do Direito Constitucional, é possível identificar dois principais modelos de relacionamento entre o poder central e os poderes locais: o modelo dual e o modelo cooperativo.
1. Modelo Dual
No modelo dual, há uma separação rígida e clara entre as competências da União e as dos demais entes federativos. Cada esfera de governo atua de forma independente e com competências exclusivas, sem sobreposição ou necessidade de cooperação entre os níveis.
Esse modelo foi originalmente adotado pelos Estados Unidos, onde cada Estado possuía ampla autonomia para legislar e administrar seus próprios assuntos, com mínima intervenção do governo federal.
2. Modelo Cooperativo
Por outro lado, no modelo cooperativo, os entes federativos atuam de forma mais integrada e colaborativa. A Constituição estabelece competências comuns e concorrentes, exigindo diálogo institucional e ações coordenadas entre os níveis de governo. Esse é o caso do Brasil, cuja federação é historicamente marcada pela cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A professora destacou, inclusive, que os Estados Unidos migraram de um modelo dual para o cooperativo após a crise de 1929, quando o presidente Franklin D. Roosevelt promoveu o fortalecimento do governo federal para enfrentar os efeitos da Grande Depressão. Neste sentido, a centralização temporária de poderes foi necessária para implementar políticas públicas nacionais, estabelecendo, assim, um novo paradigma de cooperação entre os entes.
No caso brasileiro, o modelo cooperativo está presente desde a Constituição de 1988, com a previsão expressa de competências comuns e concorrentes entre os entes, o que exige o funcionamento articulado das instituições para garantir a efetividade de direitos e políticas públicas.
Níveis de Poder no Estado Federal Brasileiro
A Constituição Federal de 1988 consagra o Brasil como uma República Federativa, composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Essa estrutura implica a existência de diferentes níveis de governo, cada um com competências próprias, mas interligados dentro de um mesmo sistema jurídico e político.
1. Três Níveis de Poder
A organização federativa brasileira se desdobra em três níveis de poder, todos com autonomia política, administrativa e financeira:
União – Representa o poder central. É autônoma, mas não exerce a soberania de forma isolada.
Estados – Também são autônomos e participam da formação da soberania nacional, sendo responsáveis pela execução de parte relevante da ordem constitucional.
Municípios – Embora originalmente não fossem considerados entes federativos, a Constituição de 1988 elevou os municípios a essa condição, atribuindo-lhes autonomia plena dentro do pacto federativo.
A República Federativa do Brasil (RFB) é o ente soberano, formado pela junção desses entes autônomos. Em outras palavras, a soberania é exercida pelo todo federativo, e não isoladamente por qualquer dos entes.
2. Autonomia x Soberania
É importante distinguir autonomia de soberania:
Soberania é o poder supremo e independente do Estado, que não se submete a nenhum outro poder. No Brasil, apenas a RFB é soberana.
Autonomia, por sua vez, é a capacidade de um ente organizar-se, legislar, administrar e arrecadar tributos próprios, dentro dos limites constitucionais.
Durante a aula, a professora utilizou uma analogia bastante eficaz para esclarecer essa diferença: ela pegou uma moeda, explicando que, embora a União exerça diversas competências centrais, ela representa apenas um lado da moeda.
O outro lado seria composto pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios — ou seja, os demais entes que, juntamente com a União, integram a República Federativa do Brasil.
Assim, a soberania não pertence exclusivamente à União, mas sim à RFB como um todo indissolúvel, conforme disposto no artigo 1º da Constituição Federal. Essa imagem reforça a ideia de que a União é autônoma, mas não soberana isoladamente, e que a soberania só se manifesta na totalidade do pacto federativo.
Por fim, um ente federativo é autônomo quando detém:
Poder de legislar sobre assuntos de sua competência.
Capacidade de arrecadar tributos.
Autoridade para governar e gerir os interesses locais ou regionais.
3. A Teoria dos Dois Níveis de Poder
A doutrina tradicional reconhece três níveis de poder no federalismo brasileiro. No entanto, o constitucionalista José Afonso da Silva defende a teoria dos dois níveis de poder, argumentando que os municípios não participam da formação da vontade nacional, já que não têm representação no Congresso Nacional.
Segundo essa visão, embora os municípios sejam autônomos, não exercem poder político pleno, pois não integram o processo legislativo federal, o que justificaria classificá-los como entes de segundo grau em relação à União e aos Estados.
Essa teoria, embora minoritária, é relevante para reflexões doutrinárias sobre a representatividade e a centralidade da soberania no pacto federativo.
Simetria e Assimetria na Federação
O federalismo não é um modelo único e rígido. Ele admite variações quanto ao grau de uniformidade entre os entes federativos, o que nos leva à distinção entre federalismo simétrico e federalismo assimétrico.
1. Federalismo Simétrico
No federalismo simétrico, todos os entes federativos possuem a mesma estrutura de organização política e administrativa, bem como competências similares. Esse modelo busca garantir igualdade formal entre os estados-membros, promovendo uma padronização institucional no seio da federação.
Durante parte da história constitucional brasileira, especialmente nas primeiras décadas do século XX, o país adotou uma estrutura mais próxima da simetria, buscando manter os estados sob um mesmo padrão organizacional, apesar das diferenças regionais.
2. Federalismo Assimétrico
O federalismo assimétrico, por sua vez, reconhece que os entes federativos podem ter diferentes competências, estruturas e graus de autonomia, conforme suas características históricas, econômicas, sociais ou territoriais. Trata-se de um modelo que valoriza a diversidade dentro da unidade, permitindo um arranjo mais flexível e adaptado às realidades regionais.
3. A Assimetria no Caso Brasileiro
A professora destacou que, apesar de o Brasil ter sido historicamente simétrico, a doutrina majoritária reconhece hoje que o modelo brasileiro se aproxima da assimetria. A grande extensão territorial, a diversidade cultural e os desequilíbrios socioeconômicos entre as regiões demandam um tratamento diferenciado para a efetivação de políticas públicas.
Nesse contexto, o professor Dirley da Cunha Júnior defende abertamente a assimetria federativa no Brasil, justamente como forma de garantir maior eficácia ao pacto federativo, considerando as disparidades que marcam o território nacional.
4. Comparativo com os Estados Unidos
A título de contraste, foi mencionado que, nos Estados Unidos, há forte característica de assimetria entre os estados, já que cada um pode adotar legislações próprias sobre temas como pena de morte, aborto, uso de drogas, entre outros. Isso reforça o entendimento de que a assimetria não é um defeito do federalismo, mas sim uma de suas virtudes adaptativas.
Repartição de Competências
Um dos pilares do federalismo é a repartição de competências entre os entes federativos. No Brasil, esse tema é tratado com profundidade na Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 21 a 24, que delimitam o escopo de atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
1. Fundamentação Constitucional
A repartição de competências visa evitar a concentração de poder em um único ente e garantir o funcionamento harmônico do Estado Federal. A Constituição distribui atribuições com base em critérios materiais, funcionais e de interesse predominante, o que permite que cada ente atue conforme suas finalidades institucionais e sua base territorial.
A professora destacou que, em caso de dúvida interpretativa, o aluno deve considerar o princípio da predominância de interesses:
Interesse nacional → competência da União.
Interesse regional → competência dos Estados.
Interesse local → competência dos Municípios.
Essa lógica orienta a interpretação dos dispositivos constitucionais e serve de baliza para a atribuição de responsabilidades no exercício das políticas públicas.
2. Modelos de Repartição
A Constituição adota dois grandes modelos de distribuição:
Competência enumerada (ou expressa): é aquela expressamente atribuída pela Constituição à União ou aos Municípios. Por estar descrita de forma precisa, não permite interpretação ampliativa.
Competência reservada (ou remanescente): é aquela que não foi expressamente atribuída a outro ente, sendo, portanto, de competência dos Estados, conforme o art. 25, §1º, da CF/88.
A professora destacou que o constituinte, ao redigir a Constituição de 1988, definiu expressamente as competências da União (arts. 21 e 22) e dos Municípios (art. 30).
Dessa forma, tudo aquilo que não foi atribuído diretamente a esses entes ficou, por exclusão, reservado aos Estados. Esse modelo, chamado de repartição residual ou remanescente, valoriza a autonomia estadual e reforça o equilíbrio do pacto federativo.
O art. 25, §1º, estabelece com clareza: “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”
Esse mecanismo permite que os Estados exerçam competências legislativas e administrativas sobre temas não ocupados pela União ou pelos Municípios, preservando sua autonomia dentro da estrutura federativa.
Assim, enquanto União e Municípios possuem competências expressamente previstas, os Estados atuam subsidiariamente, exercendo todas as matérias que não tenham sido constitucionalmente destinadas aos demais entes.
Tipos de Competência
A repartição de competências entre os entes federativos pode ser classificada segundo dois critérios principais: a natureza da competência e a titularidade atribuída. Essa divisão é essencial para entender como se distribuem as atribuições administrativas e legislativas dentro da federação.
1. Quanto à Natureza
De acordo com a natureza da atuação do ente federativo, as competências podem ser:
Administrativa: Refere-se à execução direta de políticas públicas e serviços (ex.: manter forças armadas, prestar serviços de saúde).
Legislativa: Diz respeito à elaboração de normas jurídicas, como leis federais, estaduais e municipais.
Tributária: Trata da capacidade de instituir e arrecadar tributos próprios (tema que não foi explorado em profundidade nesta aula).
A distinção entre administrativa e legislativa é fundamental, pois permite compreender quem faz (administra) e quem decide como se faz (legisla) em cada nível da federação.
2. Quanto à Titularidade
Do ponto de vista de quem detém a competência, é possível classificar:
Exclusiva: Atribuída a um único ente e indelegável. Exemplo: competências administrativas da União no art. 21.
Privativa: Atribuída a um único ente, mas delegável, mediante autorização legal. Exemplo: competências legislativas da União no art. 22.
Comum: Compartilhada por todos os entes (União, Estados, DF e Municípios), com base em cooperação. Exemplo: art. 23.
Concorrente: Envolve mais de um ente, mas com papéis diferentes. A União estabelece normas gerais, e os Estados e o DF podem legislar supletivamente. Exemplo: art. 24.
Essas classificações ajudam a compreender os limites e possibilidades de atuação de cada esfera governamental, além de facilitar a identificação de conflitos de competência ou omissões legislativas.
Artigos 21 a 24 da CF/88 – Forma Verbal e Interpretação
Durante a aula de 10/04/2025, a professora apresentou uma abordagem interpretativa bastante útil sobre os artigos 21 a 24 da Constituição Federal, relacionando o tipo de competência à forma verbal utilizada pelo constituinte.
Assim, essa lógica permite identificar se a competência é administrativa ou legislativa, e se ela é delegável ou indelegável, apenas observando o texto constitucional.
1. A Lógica da Forma Verbal
A dica ensinada em aula foi a seguinte:
Quando o artigo utiliza verbos no infinitivo (ex.: manter, instituir, organizar), trata-se de competência administrativa e exclusiva, ou seja, indelegável.
Quando o artigo apenas enumera matérias (sem verbos no infinitivo), trata-se de competência legislativa privativa, que pode ser delegada por lei complementar (caso do art. 22).
Essa lógica interpretativa funciona como um atalho de leitura constitucional, muito útil especialmente em provas e na prática jurídica.
2. Aplicação Prática – Tabela Comparativa
| Artigo | Titularidade | Tipo de Competência | Natureza | Delegável? |
|---|---|---|---|---|
| Art. 21 | União | Exclusiva | Administrativa | ❌ Indelegável |
| Art. 22 | União | Privativa | Legislativa | ✅ Delegável (parágrafo único) |
| Art. 23 | União, Estados, DF, Municípios | Comum | Administrativa | ✅ Exige cooperação |
| Art. 24 | União, Estados e DF | Concorrente | Legislativa | ✅ Supletiva |
Exemplos Práticos – Testando a Compreensão das Competências
Durante a aula, a professora utilizou diversos exemplos do cotidiano jurídico e administrativo para verificar se os alunos realmente haviam compreendido os fundamentos da repartição de competências.
Esses exemplos são valiosos porque traduzem o texto constitucional em situações reais, facilitando a memorização e a aplicação prática.
A seguir, apresentamos alguns dos exemplos discutidos em sala, com a devida identificação do ente competente e o artigo da Constituição que fundamenta a resposta:
1. Quem pode declarar guerra ou celebrar a paz em nome do Brasil?
Competência da União
📜 Art. 21, inciso II – Declarar guerra e celebrar a paz, nos termos da Constituição.
🕊️ Trata-se de uma competência exclusiva da União, relacionada à soberania nacional e às relações internacionais. A decisão deve seguir os requisitos constitucionais e dependerá da autorização do Congresso Nacional, conforme o art. 49, inciso II. Nenhum outro ente federativo pode exercer essa atribuição.
2. Quem pode manter o serviço de entregas postais no Brasil?
Ente competente: União
📘 Fundamento: Art. 21, X – Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.
📦 A atividade postal é considerada estratégica e unificada, sendo competência exclusiva da União. Ainda que inovações tecnológicas e startups proponham soluções logísticas, serviços de entrega com características postais não podem ser explorados por outros entes ou particulares sem autorização legal específica. Essa exclusividade garante padronização, segurança e regulação em âmbito nacional.
3. Quem regula o transporte público dentro de Salvador?
Ente competente: Município
📘 Fundamento: Art. 30, V – Organizar e prestar serviços públicos de interesse local.
🚌 O transporte dentro dos limites de um único município é considerado de interesse local, cabendo exclusivamente ao Município sua organização, fiscalização e tarifação. Isso inclui decisões sobre itinerários, concessões e preços, respeitados os princípios da legalidade, continuidade e modicidade do serviço público.
4. Quem regula o transporte intermunicipal entre Salvador e Feira de Santana?
Ente competente: Estado da Bahia
📘 Fundamento: Predominância do interesse regional + Art. 25, §1º – Competência remanescente dos Estados.
🛣️ Quando o transporte envolve dois ou mais municípios dentro de um mesmo estado, a competência é considerada de interesse regional, sendo atribuída ao Estado. Como a Constituição não atribuiu expressamente essa competência à União ou aos Municípios, ela recai sobre os Estados, por força do modelo de repartição residual.
5. Quem regula o transporte rodoviário entre Salvador e São Paulo?
Ente competente: União
📘 Fundamento: Art. 22, XI – Legislar sobre transporte interestadual e internacional.
🚍 Explicação: O transporte rodoviário que cruza fronteiras estaduais é matéria de interesse nacional, portanto, a competência legislativa é privativa da União. Na prática, esse tipo de transporte é fiscalizado por agências federais, como a ANTT, que regulam normas de segurança, concessões e fiscalização.
6. Quem pode regular voos internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos?
Ente competente: União
📘 Fundamento: Art. 21, XII, alínea “c” – Explorar o serviço de transporte aéreo.
✈️ O transporte aéreo, especialmente em rotas internacionais, envolve relações internacionais, tratados e segurança nacional. Por isso, sua exploração é competência exclusiva da União, sendo regulada por órgãos federais como a ANAC. Estados e Municípios não têm competência para legislar ou intervir nesse tipo de serviço.
7. Quem pode legislar sobre diretrizes da educação básica pública?
Ente competente: União e Estados
📘 Fundamento: Art. 24, IX – Competência concorrente em matéria de educação.
📚 A Constituição estabelece que a União legisla sobre normas gerais, enquanto Estados e DF podem legislar supletivamente, adaptando suas diretrizes às realidades locais. Essa é uma competência concorrente, o que significa que há cooperação legislativa entre os entes federativos, respeitando os limites da competência nacional.
8. Quem pode criar normas sobre a coleta de lixo em uma cidade?
Ente competente: Município
📘 Fundamento: Art. 30, I e V – Legislar sobre assuntos de interesse local e organizar serviços públicos locais.
🗑️ A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são serviços públicos claramente locais, e, por isso, cabem exclusivamente ao Município. Ele tem autonomia para legislar, organizar, fiscalizar e prestar o serviço, diretamente ou por concessão, desde que respeitadas as normas gerais de proteção ambiental.
Conclusão
As Anotações Acadêmicas de 10/04/2025 registram uma aula especialmente rica em conteúdo e em estratégias interpretativas fundamentais para a compreensão do modelo federativo brasileiro. Ao retomar a estrutura do Estado Federal, suas origens e variações, a aula permitiu visualizar como a autonomia dos entes é operacionalizada na prática constitucional.
A distinção entre modelos centrípetos e centrífugos, bem como entre federalismo simétrico e assimétrico, forneceu a base teórica para analisar o caso brasileiro à luz de comparações pontuais, como com os Estados Unidos.
Já a identificação dos três níveis de poder no Brasil — União, Estados e Municípios — reforçou o entendimento de que a soberania é compartilhada no todo federativo, embora a autonomia seja característica própria de cada ente.
O ponto alto da aula se deu com a abordagem da repartição de competências, com foco nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal, cuja leitura técnica foi enriquecida por uma lógica interpretativa baseada na forma verbal.
A observação de que os verbos no infinitivo indicam competências administrativas e indelegáveis, enquanto a enumeração de matérias indica competências legislativas delegáveis ou concorrentes, constitui uma ferramenta prática e valiosa para o estudo e a atuação jurídica.
Com isso, o conteúdo da aula foi sistematizado de forma a oferecer um material de estudo completo, claro e aplicável tanto no contexto acadêmico quanto na prática jurídica.
O federalismo, com todas as suas nuances, mostra-se não apenas como uma estrutura organizacional, mas como uma expressão do pacto democrático que sustenta o Estado brasileiro.
👉 Para aprofundar esse estudo, recomenda-se revisar os artigos constitucionais mencionados, resolver questões práticas sobre repartição de competências e comparar decisões do STF sobre conflitos federativos. Esse é um tema essencial para a compreensão do funcionamento da federação brasileira.