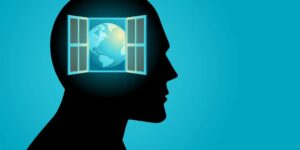O que você verá neste post
As Anotações Acadêmicas de 07/04/2025 correspondem à aula da disciplina de Organização e Fundamentos da Administração Pública, integrante do curso de Direito, que tem por finalidade apresentar os principais elementos que estruturam o funcionamento do Estado e a atuação da Administração Pública.
Neste encontro, o professor conduziu o encerramento do tema referente aos princípios administrativos, abordado nas aulas anteriores, e iniciou o novo conteúdo relativo à organização administrativa.
A aula começou com a conclusão dos princípios da consensualidade, da participação popular e da razoabilidade/proporcionalidade, completando o estudo sobre os fundamentos que norteiam a atividade administrativa estatal.
Na segunda parte da exposição, teve início o aprofundamento na estrutura da Administração Pública, com destaque para as noções de entidades, órgãos, agentes públicos, formas de descentralização e diferença entre desconcentração e descentralização, o que marca a transição para o novo eixo temático da disciplina.
Conclusão dos Princípios da Administração Pública
1. Princípio da Consensualidade
O princípio da consensualidade representa uma mudança significativa na atuação da Administração Pública, ao priorizar a adoção de mecanismos consensuais em detrimento da imposição unilateral.
Assim, em vez de apenas ordenar e impor, o Estado busca hoje soluções dialogadas com os administrados, especialmente nos casos em que estejam envolvidos direitos patrimoniais disponíveis. Essa abordagem encontra fundamento na lógica de um Estado mais democrático, transparente e orientado para a eficiência.
A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), em seu art. 138, inciso III, prevê expressamente a possibilidade de resolução consensual de controvérsias administrativas, inclusive por arbitragem, desde que envolvam direitos disponíveis.
A Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996) também respalda essa atuação consensual, admitindo o uso desse método por entes públicos.
Entre os principais instrumentos utilizados com base na consensualidade, destacam-se:
Acordo de não persecução cível – previsto na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
Acordo de leniência – regulado pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – fundamentado na Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
Termo de Ajustamento de Gestão – disciplinado pelo Decreto Federal nº 9.203/2017.
Acordo de não persecução disciplinar – aplicado em contextos administrativos sancionadores.
Trata-se de uma vertente moderna da Administração Pública, que amplia sua legitimidade ao agir com base na colaboração, eficiência, proporcionalidade e legalidade, promovendo a resolução mais célere e eficaz dos conflitos administrativos.
2. Princípio da Participação Popular
O princípio da participação popular reforça a ideia de que a Administração Pública deve ser construída com o envolvimento ativo da sociedade civil, garantindo que as decisões administrativas reflitam as necessidades e interesses coletivos.
Esse princípio está alinhado com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, no qual a legitimidade das ações estatais decorre não apenas da legalidade, mas também da escuta e do engajamento social.
A participação popular se materializa por meio de instrumentos como:
Ouvidorias
Consultas públicas – mecanismos de recebimento de sugestões e críticas da população
Audiências públicas – abertas ao debate e obrigatórias em diversos procedimentos, com apresentação formal dos resultados ao final
Um exemplo clássico de aplicação desse princípio está na Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que exige audiências públicas como condição para a elaboração e revisão dos Planos Diretores Municipais. Assim, amplia-se o controle social sobre a formulação de políticas públicas e promove-se uma administração mais legítima, transparente e democrática.
Ao final dessas audiências, deve-se apresentar formalmente o resultado das manifestações populares, garantindo transparência e efetividade ao processo participativo.
Desse modo, o princípio da participação popular fortalece o controle social, promove a inclusão democrática e amplia a responsabilidade da Administração perante os cidadãos.
3. Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são fundamentais para assegurar que a atuação da Administração Pública se dê de forma equilibrada, justa e compatível com os fins públicos que se pretende alcançar.
Neste sentido, ambos funcionam como critérios de controle da legalidade substancial dos atos administrativos, evitando abusos e garantindo decisões coerentes e motivadas.
O princípio da razoabilidade exige que os atos administrativos guardem congruência entre os meios utilizados e os fins pretendidos, observando padrões de lógica, justiça e bom senso. Já o princípio da proporcionalidade é desdobrado em três subprincípios complementares:
Adequação
Refere-se à aptidão do meio escolhido para alcançar o fim público legítimo. Não se admite, por exemplo, a aplicação de uma penalidade que não contribua efetivamente para atingir o objetivo da norma.
Exemplo: Apreensão de mercadoria de vendedor ambulante sem oferecer qualquer alternativa de regularização: a medida punitiva, embora legal, pode não ser adequada para a finalidade de ordenar o espaço público, gerando apenas exclusão social.
Necessidade (exigibilidade)
Exige que, dentre as alternativas possíveis para atingir o interesse público, a Administração opte pela menos onerosa ao administrado.
Exemplo: Imagine um fiscal que, diante de uma obra irregular em estágio inicial, opte pela demolição imediata, em vez de notificar e dar prazo para adequação. A demolição, nesse contexto, seria desnecessária, pois uma medida menos gravosa — como a notificação — também atingiria o objetivo de regularização.
Proporcionalidade em sentido estrito
É o juízo final de equilíbrio entre os custos impostos ao particular e os benefícios obtidos pela coletividade.
Exemplo: Fechar um estabelecimento comercial por descumprir norma sanitária leve, sem antes aplicar advertência ou multa, pode ser considerado desproporcional, especialmente se a medida causar desemprego e não houver risco iminente à saúde pública.
Esses subprincípios funcionam como filtros que impedem excessos, assegurando que o exercício do poder público seja compatível com os direitos fundamentais dos administrados e com os valores do Estado Democrático de Direito.
4. Princípio da Continuidade do Serviço Público
O princípio da continuidade impõe à Administração Pública o dever de manter a prestação dos serviços públicos de forma ininterrupta, garantindo estabilidade e previsibilidade ao atendimento das necessidades coletivas.
Como regra, os serviços públicos não devem ser suspensos, mesmo diante de dificuldades operacionais ou inadimplementos isolados.
Esse princípio está expressamente previsto no art. 6º, §1º da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), que estabelece:
“Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ou, ainda, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”
Ou seja, ainda que o usuário esteja inadimplente, a suspensão deve ser precedida de aviso e observar limites legais, a fim de proteger o interesse público e os direitos fundamentais envolvidos — especialmente em serviços essenciais como saúde, educação, transporte ou fornecimento de energia.
Além disso, esse princípio está diretamente relacionado ao direito de greve no serviço público, que não pode comprometer a continuidade dos serviços essenciais, como estabelece a jurisprudência do STF.
Dessa forma, o princípio da continuidade reafirma a natureza essencial dos serviços públicos e a responsabilidade da Administração em garantir sua efetiva prestação à população.
Portanto, os princípios impõem à Administração o dever de motivar adequadamente suas decisões, especialmente quando envolvem restrição de direitos ou aplicação de sanções.
Além disso, são passíveis de controle judicial, pois sua observância decorre diretamente do princípio da legalidade (art. 37 da CRFB).
Dessa forma, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, consensualidade, participação popular e continuidade, abordados na aula de 07/04/2025, complementam o estudo dos princípios expressos no caput do art. 37 da Constituição Federal — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE) — e também dos princípios reconhecidos pela doutrina e já tratados em aulas anteriores, como:
Supremacia e indisponibilidade do interesse público
Finalidade
Motivação
Segurança jurídica
Boa-fé administrativa
Confiança legítima
Esses princípios formam, em conjunto, a base que sustenta o regime jurídico-administrativo, orientando e limitando a atuação do Estado no exercício de suas funções.
Por fim, o professor ressaltou que a lista não é exaustiva, pois a doutrina pode reconhecer outros princípios, conforme a evolução da teoria e da jurisprudência.
Contudo, os princípios estudados até o momento representam o núcleo fundamental, com alta incidência prática, doutrinária e jurisprudencial, sendo indispensáveis à compreensão do Direito Administrativo.
Introdução à Organização Administrativa
Com o encerramento do estudo dos princípios da Administração Pública, a aula de 07/04/2025 avançou para o novo eixo temático da disciplina: a organização administrativa.
Este conteúdo marca a transição do plano normativo-principiológico para a estrutura institucional do Estado, analisando como ele se organiza para prestar os serviços públicos e exercer o poder administrativo.
O ponto de partida foi a compreensão da evolução do modelo estatal. A Administração Pública brasileira passou por profundas transformações, sobretudo a partir da década de 1990, com a chamada Reforma Gerencial do Estado.
Essa reforma, consolidada na Emenda Constitucional nº 19/1998, substituiu o modelo burocrático tradicional por um modelo orientado à eficiência, descentralização e foco em resultados.
Com isso, superou-se a ideia de um Estado centralizador, hierarquizado e autoritário, abrindo espaço para uma administração pluricêntrica, que valoriza a cooperação entre entes e setores, o uso de instrumentos contratuais (como contratos de gestão e termos de parceria) e a participação da iniciativa privada e da sociedade civil na execução de atividades de interesse público.
A nova organização administrativa, portanto, é moldada por valores como flexibilidade, eficiência, transparência e controle de resultados, sem abrir mão dos limites impostos pela legalidade e pelo interesse público.
Entidades, Órgãos e Agentes Públicos
Para compreender a estrutura da Administração Pública, é essencial distinguir três elementos fundamentais que compõem o aparato estatal: entidades, órgãos e agentes públicos.
Esses componentes se articulam para que o Estado possa exercer suas funções administrativas e atender ao interesse público.
1. Entidades
As entidades são as pessoas jurídicas que integram a Administração Pública. Dividem-se em dois grandes grupos:
Entidades Políticas
São os entes federativos – União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Possuem autonomia plena, ou seja:
- Auto-organização (elaboram suas próprias normas organizacionais)
- Autogoverno (elegem seus governantes)
- Autoadministração (executam serviços públicos)
- Capacidade legislativa própria
Entidades Administrativas
São criações dos entes políticos para descentralizar a execução de atividades administrativas. Podem ser:
- De direito público: como as autarquias (ex.: INSS, IBAMA, ANATEL)
- De direito privado: como as empresas públicas (ex.: Caixa Econômica Federal) e sociedades de economia mista (ex.: Petrobras, Banco do Brasil)
2. Órgãos Públicos
Os órgãos públicos são unidades internas das entidades, sem personalidade jurídica própria, mas com competência para atuar em nome da entidade à qual pertencem. São criados por desconcentração administrativa e organizados de maneira hierárquica, com subordinação interna.
Exemplos de órgãos públicos:
Na União:
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Polícia Federal (PF) – órgão da União, vinculado ao Ministério da Justiça
- Advocacia-Geral da União (AGU)
- Controladoria-Geral da União (CGU)
Nos Estados:
- Secretaria de Segurança Pública
- Polícia Militar (PM) – órgão estadual subordinado ao governo do Estado
- Polícia Civil – também órgão estadual
- Defensoria Pública Estadual
- Procuradoria Geral do Estado
Nos Municípios:
- Secretaria Municipal de Saúde
- Procuradoria Geral do Município
- Controladoria Geral do Município
As Polícias Federal, Militar e Civil são órgãos públicos pertencentes à estrutura de entes federativos diferentes (União e Estados), cada uma com sua função específica dentro do sistema de segurança pública. Elas não têm personalidade jurídica própria, atuam em nome da entidade a que pertencem (União ou Estado) e exercem, em muitos casos, função típica de Estado, como o poder de polícia e a segurança da ordem pública.
Por fim, os órgãos não têm patrimônio próprio e não atuam em nome próprio, mas em nome da entidade a que estão vinculados (por exemplo, a União ou o Estado). A hierarquia entre órgãos permite a delegação de funções e o controle interno da legalidade e eficiência administrativa.
3. Agentes Públicos
Os agentes públicos são as pessoas físicas que atuam em nome do Estado, exercendo funções públicas, seja em caráter permanente, temporário, comissionado ou por eleição. Estão sujeitos a direitos, deveres e responsabilidades previstos na legislação administrativa.
Classificam-se em:
Agentes políticos: ocupam os cargos mais altos do governo, com função política e de representação (ex.: Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Ministros, Secretários).
Servidores públicos: exercem funções administrativas e podem ser:
Efetivos (concursados) – ex.: professores, analistas, técnicos
Comissionados (cargos de confiança) – ex.: chefes de gabinete, assessores
Empregados públicos: regidos pela CLT e contratados por empresas estatais (ex.: funcionários da Caixa ou da Petrobras)
Temporários: contratados por prazo determinado para atender necessidade temporária (ex.: profissionais da saúde em campanhas emergenciais)
Esses agentes são a face humana da Administração Pública, responsáveis pela execução direta das políticas públicas e pela prestação de serviços à sociedade.
Entidades Políticas e Administrativas
A Administração Pública é composta por entidades que detêm personalidade jurídica própria e que se diferenciam entre si de acordo com sua origem, finalidade e grau de autonomia. Essas entidades são divididas em dois grandes grupos: entidades políticas e entidades administrativas.
1. Entidades Políticas
As entidades políticas são os entes federativos autônomos, previstos no art. 18 da Constituição Federal:
- União
- Estados
- Municípios
- Distrito Federal
Essas entidades possuem autonomia plena, ou seja, reúnem os seguintes atributos:
Auto-organização – elaboram sua própria estrutura normativa (constituição ou leis orgânicas)
Autogoverno – elegem seus próprios governantes e representantes
Autoadministração – prestam serviços públicos com estrutura própria
Capacidade legislativa própria – editam normas dentro de suas competências constitucionais
São os sujeitos políticos principais do Estado brasileiro, com poderes próprios e competências definidas constitucionalmente. A União, por exemplo, presta serviços como a segurança nacional e o transporte interestadual. Já os Municípios cuidam do transporte coletivo urbano, da limpeza pública, do ordenamento urbano, entre outros.
2. Entidades Administrativas
As entidades administrativas são aquelas criadas pelos entes políticos para executar de forma descentralizada as atividades administrativas. Elas compõem o que se chama de Administração Pública Indireta e possuem autonomia administrativa, mas não têm autonomia política.
Podem ser classificadas de acordo com sua natureza jurídica:
De direito público:
- Autarquias – ex.: INSS, IBAMA, ANATEL
- Fundações públicas de direito público – ex.: FUNAI
De direito privado:
- Empresas públicas – ex.: Caixa Econômica Federal, Correios
- Sociedades de economia mista – ex.: Petrobras, Banco do Brasil
- Fundações públicas de direito privado – ex.: FUNARTE
Essas entidades são criações legais, geralmente por meio de lei específica (no caso das autarquias, por exemplo), e executam funções típicas do Estado ou de interesse público, como previdência, educação, saúde, cultura, fiscalização e regulação.
Embora algumas dessas entidades tenham natureza privada, como as empresas públicas, todas se submetem a regras próprias do Direito Público, especialmente em temas como licitações, controle e prestação de contas.
Resumo comparativo:
| Critério | Entidades Políticas | Entidades Administrativas |
|---|---|---|
| Autonomia | Plena (política, legislativa etc.) | Apenas administrativa |
| Origem | Constituição | Lei específica (criação ou autorização) |
| Exemplo | União, Estados, Municípios, DF | INSS, Caixa, ANATEL, Petrobras |
| Competência legislativa | Sim | Não |
| Personalidade jurídica | Sim | Sim |
| Participação na federação | Sim | Não |
Diferença entre Desconcentração e Descentralização
A organização da Administração Pública envolve a distribuição de competências e atribuições. Para isso, o Estado utiliza duas técnicas distintas: desconcentração e descentralização.
Ambas visam tornar a atuação administrativa mais eficiente, mas diferem quanto à forma de estruturação e à relação entre os sujeitos envolvidos.
1. Desconcentração
A desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, não há criação de uma nova entidade, apenas a distribuição interna de funções entre órgãos públicos.
- Ocorre por criação de órgãos dentro da estrutura da entidade.
- Envolve uma relação hierárquica direta (subordinação).
- Não há transferência de personalidade jurídica.
Exemplos:
- Criação de Ministérios dentro da estrutura da União.
- Criação de Secretarias Estaduais ou Municipais.
- Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça.
- Secretaria Municipal de Saúde subordinada à prefeitura.
A desconcentração é uma técnica que favorece a especialização e divisão funcional dentro da mesma estrutura estatal.
2. Descentralização
A descentralização ocorre quando a Administração transfere a execução de determinado serviço ou atividade para outra pessoa jurídica, distinta do ente originário.
- Pode haver ou não transferência de titularidade, conforme o tipo.
- Não há relação hierárquica, mas sim vínculo de controle ou supervisão.
- Ocorre entre pessoas jurídicas diferentes (públicas ou privadas).
Tipos de descentralização
Por outorga (ou funcional):
O Estado cria por lei uma entidade da Administração Indireta (ex.: autarquia) e transfere titularidade e execução do serviço.
Exemplo: Criação do IBAMA para exercer função ambiental.
Por delegação (ou colaboração):
O Estado transfere somente a execução a um particular, por meio de contrato ou ato administrativo.
Exemplos:
Concessionárias de serviços públicos (ex.: empresas de energia elétrica)
Notários e registradores (delegação do Poder Judiciário)
A descentralização permite a execução mais flexível de atividades públicas, muitas vezes com participação da iniciativa privada.
Resumo comparativo:
| Critério | Desconcentração | Descentralização |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas envolvidas | Uma só (interna) | Duas (pessoas jurídicas distintas) |
| Criação de nova entidade | Não | Sim |
| Relação entre os sujeitos | Hierarquia (subordinação) | Vinculação (controle/tutela) |
| Exemplo | Ministérios, Secretarias | INSS, ANATEL, Concessionárias |
Formas de Descentralização Administrativa
A descentralização administrativa permite que a Administração Pública transfira a execução (e, em alguns casos, também a titularidade) de determinados serviços públicos ou atividades administrativas para outras pessoas jurídicas — sejam elas públicas ou privadas. Isso amplia a eficiência, aproxima o serviço do cidadão e permite especialização técnica.
As formas de descentralização podem ser classificadas conforme a forma de constituição da entidade descentralizada e o grau de vínculo com o Estado.
1. Descentralização por Outorga
Também chamada de descentralização legal ou institucional, ocorre quando uma lei cria ou autoriza a criação de uma entidade da Administração Indireta (com personalidade jurídica própria), à qual são transferidas a titularidade e a execução de um serviço público.
- A entidade passa a atuar em nome próprio, com autonomia administrativa, mas ainda vinculada ao ente central (controle finalístico).
- Utilizada para organizar serviços complexos ou que exigem especialização.
Exemplos:
- ANATEL (autarquia federal que regula as telecomunicações)
- IBAMA (autarquia ambiental)
- INSS (autarquia previdenciária)
- FUNAI (fundo público)
Embora tenham autonomia, essas entidades não estão fora do controle do Estado, sendo submetidas à supervisão ministerial e aos Tribunais de Contas.
2. Descentralização por Delegação
Também chamada de colaboração, essa forma ocorre quando o Estado não cria nova entidade, mas transfere apenas a execução do serviço público para um particular ou entidade já existente, por meio de:
- Contrato administrativo (ex.: concessão ou permissão)
- Ato administrativo unilateral (ex.: autorização)
Nessa hipótese, a titularidade do serviço permanece com o Estado, que continua sendo o responsável último pela sua adequada prestação.
Exemplos:
- Concessão de rodovias a empresas privadas (ex.: ViaBahia, CCR)
- Concessão de transporte urbano a empresas privadas
- Notários e registradores (cartórios extrajudiciais) – delegação do Poder Judiciário
- Empresas de telefonia (Claro, Vivo, Oi) – executam serviço público federal regulado pela ANATEL
O Estado fiscaliza a atividade delegada e pode retomar o serviço em caso de descumprimento contratual ou interesse público relevante.
Resumo comparativo:
| Tipo | Natureza | O que se transfere | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Por Outorga | Criação por lei (Admin. Indireta) | Titularidade e execução | ANATEL, INSS, IBAMA |
| Por Delegação | Contrato ou ato com particular | Apenas execução | Concessionárias, cartórios, empresas de transporte |
3. Exemplos Práticos de Descentralização
Durante a aula, o professor apresentou exemplos reais de descentralização administrativa, especialmente no âmbito municipal e federal, para facilitar a identificação das formas teóricas de descentralização na prática cotidiana da Administração Pública.
🏙️ No Âmbito Municipal (Exemplo: Salvador/BA)
O Município, como ente político, pode descentralizar a execução de determinados serviços para entidades que integram a sua Administração Indireta, por meio de descentralização por outorga, ou ainda para entidades contratadas ou conveniadas, no caso de delegação.
Exemplos citados em aula:
Transalvador
- Responsável pela gestão do trânsito e transporte da cidade
- Entidade vinculada à Prefeitura de Salvador
- Exerce poder de polícia administrativa (multas, fiscalização)
- Exemplo de descentralização por outorga (Administração Indireta)
SUCOP (Superintendência de Conservação e Obras Públicas)
- Atua na execução de obras e serviços de engenharia
- Entidade vinculada, com estrutura própria
- Também exemplo de descentralização por outorga
SUSPREV (Superintendência de Previdência dos Servidores)
- Gerencia o regime próprio de previdência do município
- Atividade especializada que justifica sua descentralização
LIMPURB (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador)
- Empresa pública municipal
- Responsável pela coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos
- Descentralização com natureza empresarial, regida parcialmente pela CLT
Em todos esses casos, o Município transfere a execução e, conforme o modelo adotado, também a titularidade do serviço público para uma entidade específica.
⚖️ No Âmbito Estadual (Exemplo: Estado da Bahia)
O Estado da Bahia, como ente federativo com autonomia, também possui uma estrutura administrativa que permite a descentralização de serviços públicos por meio da criação de entidades da Administração Indireta ou pela delegação de atividades a particulares.
A descentralização estadual atende, por exemplo, às demandas de áreas como saúde, segurança pública, transporte, infraestrutura e previdência.
Exemplos no Estado da Bahia:
Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.)
- Sociedade de economia mista estadual
- Executa o serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário
- Exemplo de descentralização por outorga, com natureza jurídica de empresa estatal
BAHIATER (Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural)
- Unidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural
- Atua com foco em políticas de agricultura familiar
- Exemplo de órgão especializado que pode ser reorganizado via desconcentração ou descentralização, conforme a estrutura adotada
SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão)
- Embora gerido por estrutura interna do Estado (Secretaria de Administração), pode ser descentralizado parcialmente via convênios com empresas ou prefeituras
- Exemplo de descentralização por delegação ou cooperação, em determinadas unidades
Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM)
- Fundação de direito privado que presta apoio técnico à gestão pública
- Vinculada contratualmente ao Estado
- Exemplo de entidade privada atuando por fomento ou cooperação administrativa, sem transferência de titularidade
Polícia Militar da Bahia (PMBA)
- Órgão estadual, não entidade
- Atua subordinada diretamente ao Governo do Estado, portanto se enquadra como estrutura da Administração Direta (desconcentração)
Esses exemplos mostram como a descentralização, quando aplicada pelo Estado da Bahia, busca eficiência na prestação de serviços e aproximação com o cidadão, respeitando os limites legais e institucionais de cada modalidade.
🇧🇷 No Âmbito Federal
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)
- Autarquia federal de regime especial
- Regula e fiscaliza os serviços de telecomunicações no país
- Exerce poder normativo, fiscalizatório e sancionador
- Descentralização por outorga da União
Empresas de telefonia (Claro, Vivo, Oi)
- Executam serviços públicos federais por delegação
- Exemplo clássico de descentralização por contrato (concessão)
- São fiscalizadas pela ANATEL
Cartórios extrajudiciais (notas e registros)
- Prestam serviço público por delegação do Poder Judiciário Estadual
- A titularidade permanece com o Estado; a execução é feita por pessoa física (delegado)
Centralização, Desconcentração e Descentralização
Esta seção tem por objetivo sistematizar os principais conceitos ligados à estrutura da Administração Pública, facilitando a compreensão das formas de organização do Estado voltadas à execução de suas funções administrativas.
Após a introdução das noções de entidades, órgãos e agentes públicos, torna-se essencial distinguir como se dá a distribuição interna e externa de competências na Administração Pública, por meio das técnicas de centralização, desconcentração e descentralização.
1. Centralização
A centralização ocorre quando a atividade administrativa é exercida diretamente pela Administração Direta, ou seja, pelos próprios entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), por meio de seus órgãos internos.
- Não há criação de nova pessoa jurídica.
- A atividade é exercida de forma concentrada, no centro do poder.
- Os serviços são prestados por meio dos órgãos integrantes da estrutura central da entidade.
Exemplo: A Secretaria de Educação do Estado da Bahia gerenciando diretamente as escolas estaduais.
2. Desconcentração
A desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, quando há a criação de órgãos públicos para facilitar a divisão interna de funções administrativas. Há uma relação hierárquica direta entre os órgãos.
- Não há nova personalidade jurídica.
- Serve para distribuir internamente competências e facilitar a especialização funcional.
Exemplos:
- Ministérios no âmbito da União (Ministério da Saúde, da Educação etc.)
- Secretarias Estaduais ou Municipais (ex.: Secretaria de Cultura da Bahia)
- Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) – órgão da Administração Direta estadual
3. Descentralização
A descentralização implica a transferência da execução de atividades administrativas para outra pessoa jurídica, com ou sem a transferência da titularidade do serviço. Ocorre entre pessoas jurídicas distintas, podendo ser:
Por Outorga
- Criação de uma nova entidade da Administração Indireta, por lei.
- Há transferência da titularidade e execução do serviço.
Exemplo: Embasa (sociedade de economia mista estadual da Bahia)
Por Delegação
- O Estado mantém a titularidade e transfere somente a execução.
- Formalizada por contrato administrativo ou ato unilateral.
Exemplos:
- Concessão de rodovias (ViaBahia)
- Concessão de transporte urbano em Salvador
- Notários e registradores (delegação pelo Poder Judiciário)
4 Comparativo Geral
| Critério | Centralização | Desconcentração | Descentralização |
|---|---|---|---|
| Pessoa jurídica envolvida | Uma | Uma | Duas (ou mais) distintas |
| Criação de nova entidade | Não | Não | Sim (ou vínculo contratual) |
| Relação entre os sujeitos | Direta | Hierárquica | Controle/tutela (sem hierarquia) |
| Natureza da atuação | Concentrada | Divisão interna | Autônoma, ainda que controlada |
| Exemplos | Secretaria Estadual | Polícia Militar, Ministérios | Embasa, ANATEL, concessionárias, cartórios |
Ao compreender essas formas de estruturação administrativa, o aluno é capaz de identificar quem presta determinado serviço público, em que regime jurídico e qual o grau de autonomia existente.
Conclusão
A aula do dia 07/04/2025, registrada nas Anotações Acadêmicas, marcou o encerramento do estudo dos princípios da Administração Pública e a abertura de um novo bloco temático dedicado à organização administrativa do Estado brasileiro.
A exposição foi estruturada de forma gradual e lógica, permitindo uma compreensão clara tanto dos fundamentos teóricos quanto das aplicações práticas.
No campo dos princípios, foram aprofundados aspectos como a consensualidade, a participação popular, a razoabilidade, a proporcionalidade e a continuidade do serviço público, os quais complementam os princípios constitucionais expressos (LIMPE) e os reconhecidos pela doutrina, como supremacia do interesse público, motivação, boa-fé e segurança jurídica.
Essa base principiológica constitui o alicerce para qualquer análise da atividade administrativa.
Na segunda parte da aula, iniciou-se o estudo da estrutura da Administração Pública, com foco nas entidades, órgãos e agentes públicos, nas diferenças entre centralização, desconcentração e descentralização, e nas formas de descentralização administrativa, ilustradas com exemplos locais e nacionais, como ANATEL, Embasa, Transalvador e concessionárias de serviços públicos.
Com isso, o aluno pôde compreender como o Estado se organiza, opera e delega suas funções, sempre sob o controle da legalidade e em nome do interesse público.